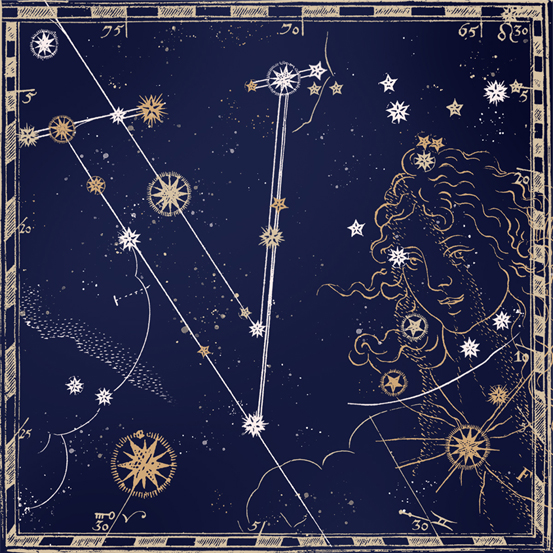Numa era em que o estilo é medido por tags no Instagram, o que distingue as aves raras da Moda dos pavões sedentos de hype?
Numa era em que o estilo é medido por tags no Instagram, o que distingue as aves raras da Moda dos pavões sedentos de hype?

©D.R.
Foi a 10 de fevereiro de 2013 que Suzy Menkes se tornou a pessoa mais amada e simultaneamente odiada do mundo. Com The Circus of Fashion, publicado no The New York Times, a editora internacional da Vogue trouxe para o centro da arena um número sobre os malabarismos do street style, o equilibrismo da importância dos desfiles versus quem está à porta, o contorcionismo de quem veste o que veste só para ser famoso e o ilusionismo da identidade. Fechou com um número de fogo em que falou sobre uma mudança na realização dos desfiles, sugerindo reservar-se entrada à estirpe de jornalistas e críticos credenciados (ou a turma que se veste de preto).
Claro que os bloggers se sentiram todos os escolhidos para o casting da principal atração do circo Suzy: os palhaços. O restante público não alvo também teve todo o tipo de reações. Aplausos. Atirar fruta podre. Comprar pipocas e ficar só a observar. Estávamos divididos. Quando Suzy escreveu este texto já a Internet tinha virado a nossa vida ao contrário, e a Moda – surpresa! – não era solo sagrado. Dos tempos de Scott Schuman a qualquer pessoa com um smartphone, este artigo mantém-se tão atual quanto postar uma fotografia do look do dia no Instagram (há 230 milhões de publicações com o hashtag #ootd and counting).
Olhemos para alguns dos argumentos de Menkes. “Julgar a Moda tornou-se tudo sobre mim: olha para mim a usar este vestido! Olha para estes sapatos que descobri! Olha para mim a amar este outfit em 15 imagens diferentes.” “Não posso deixar de sentir quão diferentes estão as coisas de quando os miúdos cool gostavam de se vestir uns para os outros – ou talvez só para si mesmos.” “Há uma diferença genuína entre ter estilo e o show-off – e este é o dilema corrente. Se a Moda é para toda a gente, continua a ser Moda?”
Vivemos tantos anos movidos a regras (incluindo as de estilo) que agora que os portões do céu da diversidade se abriram ficamos petrificados, encostados uns aos outros, padronizando-nos, sem que ninguém tenha coragem de dar um passo em frente e sentir o cheiro da liberdade. Deve ser por isso que acabamos todos vestidos de igual, a gostar das mesmas coisas no Instagram, a fazer fila nos mesmos sítios, a emocionarmo-nos com os mesmos filmes. Se olharmos para trás, percebemos que o vestir simbolizava a pertença a uma comunidade específica, que carregava uma mensagem própria. Com o acesso à informação vinda de todo o lado e mais algum, e a quebra de um sistema que nos agrupava por ideais políticos ou dinheiro no banco, tornamo-nos uma comunidade global, com acesso à fast fashion e mensagens tão massificadas quanto particulares, não necessariamente representadas por um uniforme.
O que não é propriamente errado (nem sequer há certo e errado nesta história, é só o que é) – é só aceitar que a caça ao like nos tornou as maiores fashion victims de sempre. É como me disse a Cláudia, a nossa diretora de Moda: “Estamos sempre a usar referências para pertencermos a todo o lado.” E, no fim, não pertencemos a lado nenhum. Sempre gostámos de ser amados, e, numa altura em que a tela do telemóvel é o caminho mais rápido para isso acontecer, queremos agradar a todos, tentando com isso tornar-nos “especiais” (quando uma coisa até pode ser o oposto da outra).
“Para mim já não existe excentricidade”, diz-me ela a meio da conversa, mas continuamos a virar a cabeça quando alguém “único” passa ou a sentir a sua energia encher uma sala, quer isso tenha ou não diretamente a ver com o que ela traz vestido, certo? Com stylists a sair debaixo de pedras quase todos os dias, o que torna alguém esteticamente especial? “Fazer uma entrada em grande numa sala costumava significar o Valentino vermelho certo ou o Le Smoking, mas agora para sermos notados por fotógrafos ou nas redes sociais leva um certo nível de equívoco, de ironia, de fora de ordem”, escreve Kerry Pieri num artigo de 2016 da Harper’s Bazaar.
As nossas fontes costumavam ser limitadas. Nova Iorque, Londres, Milão e Paris, as semanas de Moda ditavam o tom, subvertiam regras, abriam-nos mentalidades. Uma determinada peça saía e as pessoas costumavam odiá-la, enquanto a maioria dos insiders caía de amores por ela. Só passado algum tempo o gosto se tornaria consensual, depois daquela peça ser mastigada, digerida e cuspida numa versão mais vestível, mais “quero agradar a todos”, mais Andy Sachs pré-makeover, no fundo, mais comercial. As redes sociais vieram acelerar esse processo, fazendo com que peças como os Crocs em plataforma da Balenciaga esgotem antes que tenhamos tempo de dizer “mas isso é horrív...”.
A necessidade de sermos únicos, de nos sentirmos únicos, e parecermos únicos, faz com que escolhas menos óbvias vejam a luz do dia. Numa entrevista ao Fashionista, Megan Collins, uma espécie de vidente de tendências da Trendera, diz que hoje, mais do que nunca, tivemos de alargar o nosso leque a escolhas mais extremas, “porque as pessoas apanham as coisas cada vez mais rápido – tornam-se mainstream muito mais rápido –, por isso temos de ir cada vez mais longe para se sentirem diferentes”. Se toda a gente parece ter estilo, como te destacas? Indo na direção contrária. Exhibit A: a moda “feia”. Sim, o termo é relativo, mas acho que todos conseguimos visualizá-la. Resumidamente, a moda “feia” nasceu quando o normcore passou a ser o core e a norma. São aquelas peças que não é só a nossa avó que nos vai dizer “oh filha, então mas vais assim?” – é o planeta inteiro. Agora que os sapatos feios já chegaram à Zara, estamos à procura do que fazer a seguir.
Talvez seja por tudo isto que o vintage aparece neste momento como uma hipótese cada vez mais atraente para quem não se quer vestir de forma igual a todos os outros colegas da sala de trabalho e algumas das passerelles mais importantes do mundo estão a voltar às origens. Mas com a quantidade de pessoas que todos os dias acordam com vontade de escrever “vintage” num motor de busca ou de ir à Feira da Ladra, cheira-me que não demorará muito até esgotarmos todas as peças do mercado e que tenhamos de esperar mais uns 20 anos até podermos voltar a encontrar roupa suficientemente antiga para ser apelativa ou para contar histórias com as quais já não nos relacionamos – e nos relacionamos tanto ao mesmo tempo (amo-te, vintage). Mas isto já sou eu a divagar.
Em setembro do ano passado, a Vice colocava a questão: “Vestirmo-nos como um idiota na semana de Moda ainda vira as cabeças?” Quatro anos antes, um dos jornalistas já teria feito o mesmo, seja lá o que isso for, e por isso decidiram repetir a experiência. Tanta coisa para chegarem os dois à conclusão mais antiga da indústria: “Desde que acredites no teu próprio hype, podes ser quem tu quiseres.” Os efeitos da roupa no nosso processo cognitivo estão estudados e provados. Por exemplo, se usarmos um casaco que acreditemos ter pertencido a um médico, a nossa capacidade de prestar atenção aumenta, porque eles tendem a ser cuidadosos, rigorosos, pacientes, além de terem a obrigação de nos ouvir.
O Dr. Gallinsky, professor na Kellogg School of Management na Universidade de Northwestern, que liderou este estudo, diz que pensamos não só com o cérebro mas também com o nosso corpo. Parece que o pensamento é também baseado em experiências físicas. E a roupa é parte dela. Ela afeta a forma como as outras pessoas nos veem e o que pensamos de nós próprios. A roupa invade o corpo e o cérebro, colocando o utilizador num estado psicológico diferente. E depois o Dr. Gallinsky deu um exemplo do seu último Halloween, em que decidiu vestir-se de pimp, com um chapéu fedora, um casaco comprido e uma bengala. “Quanto entrei na sala, deslizei. Senti uma presença diferente”, relatou. Para quem não conhece o Dr. Gallinsky isto pode parecer OK. Mas para quem, como eu, googlou o Dr. Gallinsky, não imagina o ruivo de óculos com um sorriso simpático a desssslizar numa sala. Muito menos com uma fedora.
Jennifer Baumgartner escreveu um livro literalmente sobre este fenómeno a que chama “psicologia do vestir”. Em You Are What You Wear: What Your Clothes Reveal About You diz que os americanos dependem da roupa como um indicador económico e social, porque não existem classificações oficiais como um sistema de castas ou a aristocracia. É o que acontece quando não há um modus operandi específico: as pessoas criam os seus próprios. É o que nos ajuda a descobrir onde pertencemos e por isso “a roupa ajuda-nos a colocar-nos onde achamos que queremos estar”. Não há uma peça ou um estilo específico que faça uma pessoa parecer bem-sucedida, afirma a Dr. Baumgartner. Ela recomenda os clássicos, porque “funcionam independentemente de quem sejas”, mas já sabemos que a sua especialidade é Psicologia e não tanto Moda.
É como me diz Damara Inglês, modelo, graduada em Media Practice and Criticism no London College of Fashion e alguém que eu definiria com essa qualidade abstrata de “especial”: “Os clássicos ajudam-nos a criar uma espécie de cronologia estética e ideológica, mas às vezes os clássicos levam-nos a reviver um status quo do passado que não faz sentido no presente.” Além de que podem ser um pouco boring.
Numa coisa a psicóloga americana tem razão: a pior roupa é aquela que tenta mascarar, ignorar ou esconder quem somos. “A melhor marca que podemos vestir é a autenticidade”, escreve Damara. Mas o que é isso da autenticidade? Onde se compra, quanto custa? “Para ser sincera, acho que todos fingimos um bocadinho”, e só isto já é autêntico. “Autenticidade torna-se frágil numa sociedade obcecada por hype, todos criamos uma personagem ideal para o mundo. Acho que a única coisa que transcende este hype/personagem é o à-vontade da pessoa. Pode parecer cliché, mas autenticidade não se mede pela roupa, mas sim pela aura. Uma gargalhada é o suficiente para uma pessoa passar de ‘desesperada por atenção’ a alguém autêntico que está confortável na própria pele.”
Os clichés existem na maioria das vezes porque são verdade. Cada um de nós é único e se cada um de nós é único só extrapolando a nossa personalidade conseguiremos atingir o que será o antónimo do pior insulto da indústria (da vida?): ser básico. “Alguém me disse uma vez que o crânio humano é o cofre mais seguro, porque guarda o segredo mais valioso de todos: a consciência. Somos todos diferentes, porque não expressá-lo? Acho que não sou única aos meus olhos, conheço-me bem demais para estranhar quem sou ou o que visto. Torno-me única quando os outros depositam esse valor em mim, e isto sim é importante! Somos o que vemos, e quando eu mudo a perspetiva de alguém através de algo tão simples quanto o vestir... surpreendo-me”, conta Damara.
O futuro parece risonho. Mais e mais pessoas estão a começar a vestir-se para si mesmas, no sentido em que se tornam mais conscientes sobre aquilo que compram e o que isso dirá sobre elas (ao invés de tentar fazê-lo para agradar aos homens/sociedade). Sermos considerados a geração mais narcisista de sempre também pode ajudar à festa (traços como sobrancelhas farfalhudas são, segundo duas investigadores da Universidade de Toronto, sinal de que nos queremos destacar de forma a chamar a atenção – típico de narcisismo). As próprias passerelles nos incentivam a ser a versão mais ousada no nosso eu e, nas red carpets, a questão também se coloca.
A editora de Moda do site Man Repeller, Harling Ross, falava de um “clima fascinante para o estilo de passadeira vermelha”, quando analisou estes últimos Golden Globes, “porque um outfit que poderia ter posto uma celebridade na temida lista de mais mal vestidas há uns anos, poderia ser agora o seu bilhete para entrar na cobiçada conversação das redes sociais”. [Side note: o que torna alguém memorável?] A Moda tem a ver com identidade, faz parte do processo de descoberta de quem somos e o que andamos ou queremos andar aqui a fazer.
“Sonhamos com quem queremos ser e sentimo-nos melhor quando nos conectamos com essa pessoa através da roupa em que habitamos”, resumiu Caryn Franklin, comentadora de Moda e ativista de Moda sustentável, ao The Guardian. Para Damara, “o ‘eu’ é uma personagem que praticamos todos os dias, uma realidade que é constantemente reforçada pela nossa história, crenças, gostos e sonhos. Torno-me ‘eu’ nas mais pequenas decisões, e vestir há-de ser a maior delas. Por exemplo, se eu não como McDonald’s, não oiço música que passa na rádio nem li As Cinquenta Sombras de Grey, porque me haveria de vestir como se o fizesse? Não, eu gosto de cozinha de fusão, adoro caçar vinis e ler Anaïs Nin... Este ‘eu’ só se torna visível quando o visto.”
A minha roupa é como os amigos que conheci na secundária. Fazem-me sentir bem, dão-me força, conhecem-me de todos os ângulos daquele provador, como ninguém. Também me desafiam, também podem servir para desafiar os que me rodeiam, mas em última instância o ato de vestir é pensado. Por muito que digamos isso cinco vezes por semana, não, não acordamos e vestimos a primeira coisa que nos aparece à frente. Até porque antes de nos aparecer à frente teve de ser escolhida, experimentada, paga, arrumada, vestida e atirada para a cadeira do quarto de onde a retiramos hoje.
“A Moda é como uma panqueca. Quando começa a queimar tens de a virar”, disse-me uma amiga enquanto discutíamos este assunto numa viagem de Uber. Falamos das pessoas a que elogiosamente chamamos aves raras da Moda, se a Internet faz com que toda a gente se pareça com uma e como podemos identificar as verdadeiras das imitações (há sempre como). De repente, surge uma voz vinda do banco da frente. “Eu não sou uma ave rara, pois não?”, perguntava-nos o motorista (que, só para contextualizar, trazia uma camisa azul coberta com uma camisola de decote em V do mesmo tom). Rimo-nos. “Não tem mal ser uma ave rara”, respondeu a minha amiga. “Também não tem mal se não for.” “Se formos todos genuínos somos todos aves raras”, acrescentei.
Acho que a maior excentricidade dos tempos modernos passa por sermos identificáveis. Quando vejo algo e penso “isto é a cara da Irina”, digo-o porque ela me mostra todos os dias através da sua forma de vestir aquilo que ela é. Sonhadora, de moods, com uma queda para peças que não imagino qualquer outra pessoa no mundo a vestir. Para algumas pessoas algumas das suas escolhas poderiam ser exageradas – mas nela não o são. “Para mim a Moda e o exagero não funcionam, pois algo que seja mais avant-garde ou mais show stopper não é exagero mas uma estética. O exagero na Moda acontece quando os wearers exageram no seu estilo, ou seja, usam algo que é demasiado para eles. Para mim, o exagero é isso. O mesmo look pode ser exagero numa pessoa e noutra não. Tudo depende da atitude, da personalidade e do conforto que a pessoa sente a vestir algo”, resume-me o designer David Ferreira.
“O melhor conselho de estilo que posso dar a alguém é olhar para além e por trás das inspirações, não à sua volta”, diz Dani Michelle, stylist de Kylie Jenner e Kourtney Kardashian, num email. “Menos é mais e, se estiveres na dúvida, então não uses esse acessório.” Conforto não tem a ver com calçar só ténis, nem estilo com camadas – a não ser que seja isso que lhe apeteça naquele preciso momento, que seja isso que o corpo e a mente lhe pedem, que seja isso com que se identifique. É por isso que no meio de uma multidão tanto se pode destacar uma pessoa que se vista de preto dos pés à cabeça como outra que esteja coberta de plumas. O que somos, e aquilo que confortavelmente nos coloca nessa pele, pode não se conseguir definir, mas vê-se, sente-se e, acima de tudo, chama a atenção.
Artigo originalmente publicado na edição de fevereiro 2019 da Vogue Portugal.
Most popular

Tendências do guarda-roupa das nossas mães e avós que regressam na primavera/verão de 2024
19 Apr 2024

Tudo o que deve saber sobre a Met Gala de 2024: Tema, anfitriões e muito mais
18 Apr 2024

Relacionados
.png)