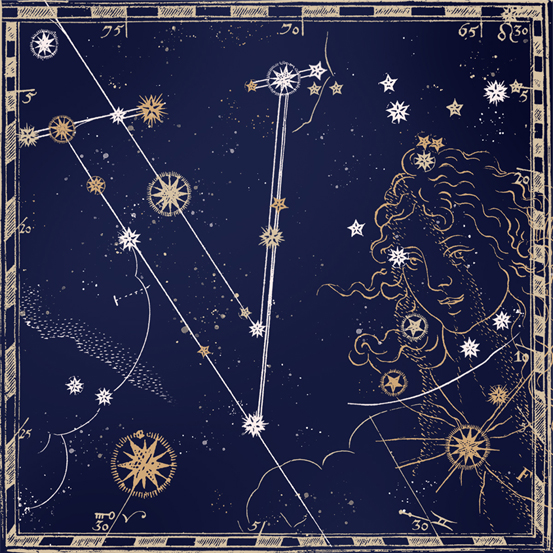Já falámos de batom vermelho, já falámos de saltos altos. Mas há outros acessórios que de tão icónicos, de tão clássicos, de tão femininos, nos fazem sentir o poder que sempre tivemos cá dentro. Em nome da pluma, da luva e do chapéu. A-diva.
Já falámos de batom vermelho, já falámos de saltos altos. Mas há outros acessórios que de tão icónicos, de tão clássicos, de tão femininos, nos fazem sentir o poder que sempre tivemos cá dentro. Em nome da pluma, da luva e do chapéu. A-diva.
Temos pena

Modelo num vestido em seda e plumas, fotografada para a Vogue americana em 1951 © Cecil Beaton/Condé Nast Archive
Modelo num vestido em seda e plumas, fotografada para a Vogue americana em 1951 © Cecil Beaton/Condé Nast Archive
Ao investigar uma gruta de Neandertal perto de Verona, o paleontólogo Marco Peresani e a sua equipa encontraram cerca de 660 ossos de pássaros. “As marcas de corte, de depenar e de raspagem são observadas exclusivamente nas asas, indicando a remoção intencional de grandes penas. [...] Removeram os remígios [as grandes penas das asas que ajudam no voo], que são as penas mais longas e bonitas”, reportou. Das 22 espécies presentes na gruta, a maior parte não é considerada como fonte de alimentação. Para que é que os neandertais usariam aquelas penas? Peresani concluiu que eram para adorno. Nós também. Os nativos americanos deram continuidade à tradição – não usando as penas no dia a dia, como a cultura popular nos quer fazer acreditar, mas apenas em ocasiões especiais (e eram exclusivas dos homens, shame) – e na Idade Média, na Europa, as plumagens começaram a ser um símbolo da alta aristocracia – vejam-se as máscaras dos bailes venezianos do século XII. O século XVII apresentou-nos as boas de penas (finalmente!) que se tornaram especialmente populares nos períodos Vitoriano e Eduardiano (seus malandros) e, se pensarmos bem, até ao século XIX a história foi escrita com uma pena. Queremos mais glamour que isto?
Em 1886, Frank Chapman, um ornitólogo do Museu de História Natural contou penas ou até pássaros inteiros nos chapéus de 542 – de uma amostra de 700 – ladies nova-iorquinas. Chamaram-lhe o Plume Bloom, nós chamamos-lhe só estilo. Mas foi nos anos 20 que as plumas – de avestruz, de marabu – conheceram o seu clímax e nós lhe reconhecemos o potencial. Adornavam os flapper dresses porque não existia outro material que criasse um movimento tão indelével e a canção de um vento invisível ecoou por todo o século XX, em salões de baile e boudoirs das nossas grandes divas. As plumas deixaram de ser símbolo de estatuto social para se tornarem o cume da elegância, da indulgência, de um despojo madrugador atirado para o chão do quarto, sem maneiras, sem cerimónias. Felizmente entretanto chegaram as plumas sintéticas e esta insustentável leveza do ser passou a ser sustentável, e este outono apresenta-nos a beleza sem peso das penas a debruar Alexander McQueen, Chanel e naquela capa rosa da Alta-Costura de Giorgio Armani com a qual continuamos a ter sonhos indecentes. E tantos anos depois, o efeito físico, moral, mental e emocional é o mesmo. O de uma decadência sem limites.
As penas estão para os pássaros como as escamas para os peixes e os pelos para os mamíferos: são a proteção. E está certo que os escudam de temperaturas extremas, e que são o que os diferencia entre os sexos, mas também são o que os faz voar. É assim tão errado querer voar também, nem que seja por uma noite?
De perder a cabeça

Modelo com chapéu em veludo e rosas aplicadas, fotografada para a Vogue americana em 1944 © John Rawlings/Condé Nast Archive
Modelo com chapéu em veludo e rosas aplicadas, fotografada para a Vogue americana em 1944 © John Rawlings/Condé Nast Archive
Durante tantos, tantos séculos, era preferível perder a cabeça do que perder o chapéu. Quando dizemos tantos séculos, não estamos a exagerar: até os antropólogos consideram que o que vemos sobre a cabeça da Vénus de Brassempouy não é cabelo, mas um chapéu. Isto foi há 26 mil anos. Já sem suposições, os nossos queridos egípcios, berço das divas, tinham por hábito rapar as cabeças e cobri-las com peças elaboradas que não só os mantinham frescos como extremamente cool. Viram o que fiz aqui? Cool? Fresco? As minhas piadas são como os chapéus – continuam, continuam, continuam, e raramente sabem quando parar. Têm, aliás, tendência para se intensificar. Como aconteceu em 1700, quando começaram a brotar, de todas as esquinas mais fancy, os milliners – em Londres, chapeliers em Paris – que traziam de Milão a tradição e a arte de decorar as cabeças humanas. Tornou-se protocolo, obrigatório, imperativo. Sair à rua sem chapéu era punido por morte (social, atenção) e absoluta e irrevogavelmente impensável. Como fazer brotar ainda mais o negócio? Protocolo e etiqueta, meus caros.
Cada ocasião tinha o seu chapéu e não era raro que as damas mudassem de aparato várias, várias vezes ao dia. Este é dos poucos acessórios nesta nossa história das divas que não escolhia estrato social: se respirasse, tinha de usar chapéu. Pelo menos até à Segunda Grande Guerra, quando as pessoas estavam demasiado ocupadas a correr para os seus bunkers para se protegerem de ataques aéreos – e um chapéu de feltro forrado a seda com cristais, plumas e flores pode proteger-nos de muitas coisas, mas nenhuma delas é um míssil. Quando o dress code é despido ao mínimo essencial, é de se lhe tirar o chapéu. E nunca mais essa peça constou como mandatária num protocolo (a não ser na Royal Ascot, mas se formos falar de todas as alíneas da etiqueta real britânica, mais vale mudar o tema desta edição). É claro que os chapéus não desapareceram, mas a partir do momento em que se tornaram literalmente um acessório, os seus artistas puderam dar asas à imaginação. Os anos 80 viram-lhes um breve regresso por causa do vício de tudo o que era Princesa Diana, mas foi sol de pouca dura. Diz-se que o chapéu é o melhor acessório de todos porque exige automaticamente que se dê atenção ao rosto, além de que acrescenta um mistério que, bem trabalhado, é fatal. Hoje tornou-se tão raro que cada vez que surge dá-nos um estalo de glamour – é impossível olhar para um de abas infinitas sem achar que a mulher que o usa é dona não só de bom gosto, coragem e um pescoço forte, mas também de um conhecimento profundo de Moda, de elegância, de pose. Olhamos para o trabalho de Stephen Jones e Philip Treacy com reverência e aceitamos-lhes as musas com devoção. Observamos a coleção de Maryam Keyhani com um quê de adoração e outros tantos de inveja. Agradecemos a Jacquemus as suas demandas pelos limites de uma aba, à Mulberry pelo romantismo que trouxe de volta, a Marc Jacobs pelo fator cool. Eu disse que as piadas não tinham limites, mas os chapéus também não.
Que nem uma luva

Modelo com luvas em pele, fotografada para a Glamour americana em 1946 © Serge Balkin/Condé Nast Archive
Modelo com luvas em pele, fotografada para a Glamour americana em 1946 © Serge Balkin/Condé Nast Archive
Surpresa! As luvas também estavam presentes em pinturas rupestres. E também eram preferidas dos Antigos Egípcios. E também surgiram na Europa como símbolo de status social. E também eram parte integrante da etiqueta e do protocolo. E também deixaram de ser depois da Segunda Guerra Mundial. “Então o que é que as luvas têm de especial?” Se esta foi a pergunta que fez, não é merecedor de as usar – nem de continuar a ler este artigo. Vá, vire a página com essas mãos nuas. Quem ficou sabe que as luvas são especiais. E também sabe que não estamos a falar das luvas de lã que não nos deixam ter frieiras no inverno, mas das luvas de seda ou de pele ou de renda que nunca nos deixam ter tristeza, qualquer que seja a estação do ano. Qualquer acessório que tenha feito parte do imaginário da aristocracia pode ter-se tornado uma marca de estatuto porque o seu processo de produção era tão minucioso e a matéria-prima era tão rara que conquistou o lugar por ser demasiado caro. Mas por isso também, quando uma dama do século XVII calçava as suas luvas debruadas a ouro, pejadas de pedras preciosas, delicadas apesar de explicitamente rococó, sentia-se incrível. Sentia-se composta, sentia-se maior, sentia-se especial. Há poucos objetos com estas capacidades – talvez uma mão chegue para os contar – e três deles estão neste artigo. Se bem que reservamos um carinho especial pelas luvas.
Nós e os designers que, neste outono, puseram mãos à obra e nos deixaram a nós sem mãos a medir. Chanel, Prada, Olivier Theyskens, Calvin Klein, Eckhaus Latta, Sacai, No. 21, Loewe, Kenzo, Alberta Ferretti, Simone Rocha, Erdem, Moschino, Rodarte, Peter Pilotto – parece muito? É porque não estamos loucos nem sozinhos como quem virou a página uns parágrafos acima. As luvas sobem ao cotovelo – às vezes não param por aí – em todas as cores e materiais e texturas, embelezadas com flores e lantejoulas e sonhos. É certo que, ainda assim, não se comparam a nenhuma peça da luvaria Ulisses, em Lisboa, feita à medida, cosida até à perfeição, qual segunda pele de amor, mas qualquer par de luvas mantém em si o mesmo efeito emocional do que no início dos tempos. Aconteça o que acontecer, vai correr tudo bem. E pelo menos estamos bem vestidos.
Most popular

Tendências do guarda-roupa das nossas mães e avós que regressam na primavera/verão de 2024
19 Apr 2024

Tudo o que deve saber sobre a Met Gala de 2024: Tema, anfitriões e muito mais
18 Apr 2024

Relacionados
.png)